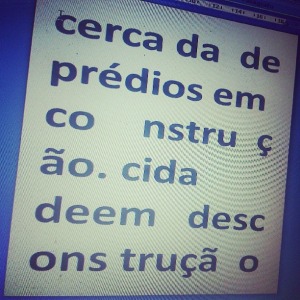Helena, os prédios também morrem
Helena, prédios também transpiram
Helena, prédios também escarram
E a cidade é o centro do cerco
Rodrigo Campos e Kiko Dinucci
.

Rodrigo Campos, Kiko Dinucci, Marcelo Cabral e Romulo Fróes
O amor chegou a mais um fim, a cidade cai, o passo é trôpego, mas vai avante – anuncia e clama pelo gozo do riso. O ‘Passo elétrico’ de Kiko Dinucci, Rodrigo Campos, Romulo Fróes e Marcelo Cabral, disco lançado no último mês de maio, canta a vez da voz por sobre a cidade sem santos, onde nada se justifica por ser sagrado, instituído. A poética é do indivíduo que habita uma cidade que ainda condiciona o homem, mas já deixa transparecer sua inevitável inconsistência. O cidadão esquizofrênico que passeia pelas canções das quatro vozes autorais aqui se rodeia de guitarras ao modo de trilhos de metrô corroídos de ferrugem – seu som –, contempla e cria a queda do império de ideias que até então o condicionou, arquiteta o seu inverso
Dogmáticos, os quatro compositores são os únicos a tocar, compor e cantar no disco. Combinam-se entre si exclusivamente em duplas ao criarem as canções, mas presentes ou não no processo de criação não deixam de traçar seus enunciados autorais: vozes, cordas, ruídos. Numa convergência polifônica – como árvores de diferentes espécies que crescem na mesma direção, centrípetas, rumo e em volta do sol no centro de um globo enorme e fechado, transparente, as raízes fincadas em sua superfície – guitarras, contrabaixo, cavaco, violão e efeitos sonoros se cruzam e compõem arranjos que, em sua pluralidade, resultam numa só voz-interseção: o cidadão em seu passo torto, elétrico, adiante, além de suas quatro fontes.
O disco começa com a canção ‘Homem só’. O personagem-objeto e sua solidão são uma combinação convidativa para a crueza do indivíduo de nosso tempo, um chamado ao afrontamento da dor dentro de todos, escondida pelo maquinário da vida, do trabalho e da mecanicidade dos gestos diários. Desse impacto se propaga a consciência da solidão, já bendita. Contamina-se de sua própria dor recém-ativada um terceiro (um interlocutor, um ouvinte) que com esse “homem só” toma contato, transformando-se numa paradoxal companhia – uma coletividade potente acendida pelas vias da solidão:
(…)
Não se pode tocar
A bendita solidão de um homem só
Sem achar
Tão bonita a solidão de um homem só
E andar
Tão sozinho andar de homem só
O disco prossegue como se esse(s) homem(s) andasse(m) e à sua volta notasse(m) sua dor impressa nos prédios (micose, varizes, bronquite[1]) – a impermanência do homem, da cidade, de tudo e das ideias de tudo –, os mapas já tão definidos dos caminhos que percorrerá(ão) (uma voz geral que dita seus atos, comportamentos, padrões, objetivos antes de se legitimarem seus: pássaro midiático), o amor desacostumado a ser gesto, difuso em fantasias, nostalgias, símbolos sexuais.
Emparedada pelo seu próprio habitat a voz polifônica cria de seu condicionamento (matéria-prima) uma nova realidade. O emparedamento gera a resistência, “a sucessiva reinvenção da própria possibilidade de resistência”[2]. Quando já não há possibilidades físicas, reais, de renovação, quando os muros sólidos se apresentam como falsas películas quase invisíveis (superficializando a experiência humana e anunciando a liberdade plena, comunicacional, um disfarce do condicionamento) a nossa volta, é necessário antecipar o mundo que se busca construir numa realidade que o transcenda, cabível em arte, em ideias. Com elas semear o que cabe à criação artística, à filosofia:
“Toda a criação é um ato de fé. (…) Fé no homem em suma, mas não no homem existente, antes no homem como possibilidade, no advento futuro do homem. O homem, para o pensador e para o criador, é sempre um devir-homem. Sempre um homem futuro, um homem por vir, só presente ainda na criação e no pensamento, antecipado por eles, por eles exigido.
(…)
Toda a criação se destina, intenções subjetivas do criador à parte, a essa humanidade utópica, e como sua invocação. A filosofia também: faz-se filosofia por o homem não existir, porque o homem não existe ainda, simples possibilidade inscrita no cérebro inteligente, e para que esse possível possa advir.
(…)
Canções do disco como “Adeus”, “O buraco” e “A cidade cai” dizem desse desprendimento do táctil, despedem-se do real cotidiano rumo a uma hiper-realidade criadora, dele originário:
A cidade cai[3]
Vai José
Vai correndo até
Atravessar
A avenida que já não
Tá lá
O campinho que jogou
Vai José
Vai saber como é que é
Cair
A cidade inteira até
Sumir
A cidade inteira cai
Construção
Demoliram até meu coração
Procurei
Mas a vida que vivi
Não vive lá
O “homem só” ganha nome comum para atravessar a avenida e o campinho que já não existem, mas que ainda sim são atravessáveis em memória e ideias. Debruça-se sobre a lembrança, sobre o imaginário e enxerga ‘a cidade inteira até sumir’, cair. Não é no sólido do concreto, das ideias mecanicistas, das construções e demolições que penetra e habita esse homem reinventor do pensamento: é da constatação da cidade em queda que parte seu passo torto, elétrico.
Para que essa cidade caia – metáfora de destruição do pensamento automático, institucionalizado, formador de um sistema social condicionador de liberdades -, é necessário criá-la em queda no plano da arte, realizá-la num âmbito hiper-real, num tempo e num espaço que não se condicionem ou ditem quaisquer aspectos histórico-culturais, pois “nunca a criação e o pensamento são movimentos histórico-culturais, mas dinamismos sempre “inatuais”, e inatuais porque improcedentes dos critérios existentes, antes criando também, de cada vez, os seus próprios critérios e valores.”[4]
Na gravação do disco a letra é cantada por inteiro duas vezes, a primeira por Dinucci, a segunda por Fróes e numa terceira, em uníssono pelos quatro compositores são cantadas as duas primeiras estrofes. A gravação se encerra com o verso “a cidade inteira cai” repetido quatro vezes, como se aquele mesmo “homem só” da primeira canção contagiasse um coletivo de seres que, sejam como for, não são indiferentes[5] ao que lhes rodeia: arquitetam uma página em branco, um plano aberto e livre para novas construções filosóficas e criacionais. A tarefa conseguinte se torna perceber a matéria residual dos movimentos que formaram “a cidade” e sua atual estrutura comunicacional-informativa, caminhar no sentido contrário: descomunicar. O que esteve à margem da construção do que pode ser chamado de capitalismo tardio, informacional, emerge dos escombros em forma de cacos-tijolos, constante reestruturação do pensamento:
Não compete à filosofia comunicar, participar na edificação de uma cultura comunicacional ou de uma nova atenas universal fundada nos valores das democracias liberais e nos modos de dominação que eles legitimam. Outra é a vocação da filosofia, outras as suas competências e tarefas. Tarefa crítica: conceitualizar, desde já, a lógica da assim chamada sociedade de comunicação como uma realidade em vias de estabelecimento, conceitualizar essa novidade. Tornar inteligíveis, em suma, os processos e poderes que se apropriam já da vida humana e as suas implicações sobre essa vida e o pensamento dos homens. Tarefa construtiva: estar alerta às auto-exclusões ou devires de toda a espécie que, de dentro, o sistema possa suscitar. E contribuir com os seus meios conceptivos particulares para a afirmação dessas comunidades descomunicantes, de redes contra-culturais alternativas, por mais frágeis ou efêmeras que sejam, e assim para possibilidades vitais mais abertas, mais livres, esquivando o controle.” [6]
Como exemplo desses métodos de neoconstrução e esquiva os microrroteiros da artista Laura Guimarães apresentam intenso diálogo com as canções do grupo autoral paulistano Passo Torto. O projeto de Laura consiste em espalhar pelas paredes de São Paulo e outras cidades lambe-lambes contendo poemas-contículos, poemetos corridos, coloridos, fragmentados, que criam uma cidade com os cacos da própria cidade. São pequenas histórias que incitam o imaginário de quem passa e vê, um convite às histórias que todos temos e perdemos pela funcionalidade do tempo. A partir do que se faz resíduo no habitat do progresso desvairado (a lua, um cão, uma criança, um mendigo, o amor em meio aos escombros) Laura inventa uma “sobrecidade” e cola por cima, é a criação de uma metarrealidade que transcende, habita e recria diretamente a realidade de onde se originou.
Com a maioria de seus verbos num presente eterno que percorre todas as horas, os microrroteiros da cidade contam historietas que interrompem a pressa, os negócios, os passos apressados, as informações que flutuam pelas antenas dos prédios, dos celulares, das mentes. Os textos retratam e invadem a realidade urbana como o faz a lua que atrasa o trânsito quando se para pra olhar, o horizonte que mesmo escondido por detrás dos prédios deixa sua falta. Rompe-se o ritmo: uma personagem passa diariamente por um piano no metrô e é o momento em que decide parar (“pra que serve o tempo, afinal?”) que se faz retrato em texto. Em sua dimensão construtiva os microrroteiros mais do que pressupor uma estrutura concreta, social, econômica em definhamento arquitetam de exceções da “cidade”, do que lhe é residual, uma situação que pode se tornar corriqueira. A palavra “carinho” estampada numa folha de papel rosa-choque colada no poste traz à tona um sentimento autóctone, perdido no expediente dos dias.
Dessa maneira, portanto, é possível evidenciar uma somatização, um trabalho colaborativo (consciente ou inconsciente) entre os microrroteiros de Laura Guimarães e as canções do disco “Passo elétrico”. O “homem só” que demole a cidade ganha vozes estruturadoras de hiper-realidades pelos escombros, em nome de um homem futuro que já habita o presente em forma de esperma, grita ainda sem muito entender o que busca fecundar, conhece apenas a superfície do que combate e do que sai em defesa, mas insiste no instinto e na lida de penetrar e criar novas realidades, valores, liberdades.
[1] Referência à letra de ‘Helena’, canção de ‘Passo elétrico’.
[2] DIAS, Sousa. “Esforços de Guerra”, in Estética do conceito. Pé de página editores
[3] Kiko Dinucci e Romulo Fróes
[4] DIAS, Sousa. “Esforços de Guerra”, in Estética do conceito. Pé de página editores
[5] AGAMBEN, Giorgio. “Qualquer”, in A comunidade que vem. Editorial Presença
[6] DIAS, Sousa. “Esforços de Guerra”, in Estética do conceito. Pé de página editores